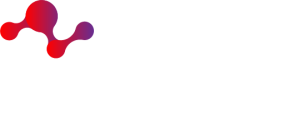Afonso Peche Filho*
Quando a ciência subsidia limites, ela entra na arena dos interesses: não por ser “partidária”, mas porque seus resultados orientam decisões que deslocam recursos, impõem restrições e alteram benefícios. A disputa, quase sempre, não é sobre a existência dos fatos, mas sobre quem se adapta, quanto custa e quem paga. É por isso que a ciência se torna incômoda justamente quando cumpre seu papel social mais importante: transformar indícios dispersos em evidência organizada, capaz de orientar escolhas coletivas com alguma racionalidade.
A legislação socioambiental é um dos lugares em que essa tensão aparece com mais nitidez. Leis que protegem nascentes, limitam desmatamento, estabelecem padrões de qualidade do ar e da água, definem zonas de risco, obrigam recuperação de áreas degradadas ou regulam substâncias perigosas não surgem do nada: elas se apoiam em séries históricas, modelagens, monitoramento, perícias, avaliações toxicológicas, estudos de impacto, hidrologia, ecologia, saúde pública. A ciência oferece um tipo de argumento que não se sustenta apenas em opinião: ela descreve relações causais, estima probabilidades, calcula margens de segurança, identifica limiares, aponta danos cumulativos e irreversíveis. Quando isso vira norma, vira “limite”: não como capricho moral, mas como contabilidade ecológica e social.
É aqui que emerge a perplexidade, e, muitas vezes, a acusação. Setores políticos e econômicos afirmam que a ciência “cerceia” o desenvolvimento do país, como se qualquer regra fosse uma afronta ao progresso. É uma retórica conhecida: transformar o limite em inimigo, a precaução em atraso, a proteção em obstáculo. Mas o que está sendo defendido, na prática, não é o desenvolvimento em seu sentido humano, expansão de capacidades, bem-estar, segurança, estabilidade produtiva, justiça intergeracional, e sim a continuidade de um desenvolvimento econômico “selvagem”, orientado por ganhos de curto prazo e pela transferência de custos para terceiros: comunidades do entorno, trabalhadores, municípios, bacias hidrográficas, gerações futuras.
A ciência incomoda porque expõe essa transferência. Mostra que parte do lucro privado depende de um prejuízo público invisível: erosão que assoreia rios e aumenta o gasto de tratamento de água; contaminação difusa que eleva o risco sanitário; desmatamento que desestabiliza o regime hídrico; ocupação em áreas frágeis que multiplica desastres; emissões que acentuam extremos climáticos; simplificação ecológica que fragiliza a produção e eleva dependência de insumos. O “limite” sustentado pela pesquisa, nesse caso, é uma forma de dizer: há uma conta, e ela está sendo paga em algum lugar, só não aparece no preço final.
Não é raro que esse conflito seja mascarado por uma disputa de linguagem. O que a ciência chama de “risco sistêmico” ou “capacidade de suporte” é rebatizado como “entrave burocrático”. O que se define como “padrão de qualidade” vira “exigência inviável”. A incerteza inerente à ciência aplicada vira argumento para inação: “não há consenso”, “precisamos de mais estudos”, “o impacto é discutível”. O paradoxo é que, em temas socioambientais, esperar certeza absoluta costuma ser a forma mais sofisticada de aceitar o dano. E quando o dano é cumulativo, como perda de solo, degradação hídrica, contaminação crônica, a janela de correção se fecha sem barulho, como se nada tivesse acontecido.
Também há o problema da assimetria de poder. Quem se beneficia do “vale tudo” tem recursos para influenciar narrativas, capturar agendas, pressionar instituições, financiar desinformação ou promover uma ciência instrumental que só valida o que já se queria fazer. Enquanto isso, quem sofre os efeitos difusos do desenvolvimento predatório raramente tem meios de traduzir sua experiência em voz pública. A ciência, quando bem exercida, pode ser um dos poucos instrumentos capazes de tornar visível o que é sistematicamente invisibilizado: o custo ecológico e humano do crescimento sem cuidado.
É por isso que limites não significam antidesenvolvimento. Significam desenvolvimento com chão com água, solo, saúde, estabilidade e dignidade. O país que trata ciência como obstáculo escolhe, no fundo, um caminho caro: paga depois em crise hídrica, desastres, perda de produtividade, judicialização, conflitos territoriais e colapso de confiança. O país que usa a ciência para subsidiar limites escolhe um caminho mais difícil no presente, mas mais promissor no tempo: reconhece que liberdade econômica sem responsabilidade ecológica é apenas uma forma elegante de empurrar a conta para quem não pode recusar.
Quando a ciência subsidia limites, ela não “toma partido”; ela recusa a fantasia de que o mundo é infinito e de que os custos não importam. E essa recusa, em uma sociedade capitalista que premia o curto prazo, é suficiente para parecer subversiva. Talvez seja justamente aí que esteja sua importância: lembrar que progresso não é correr mais rápido rumo ao abismo, mas aprender a caminhar com lucidez.
* Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de Campinas – IAC.