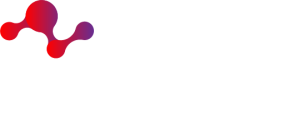Afonso Peche Filho*
O cenário da ciência contemporânea revela uma contradição inquietante: enquanto parte dos pesquisadores ainda se mantém fiel à missão social da pesquisa, entendendo-a como prática ética, formadora de conhecimento crítico e voltada ao bem comum, cresce, paralelamente, um modelo de cientista moldado pelas pressões produtivistas. Esse novo perfil, muitas vezes, se coloca a serviço de resultados rápidos, de métricas numéricas e de interesses de setores que já dominam o conhecimento consolidado, distanciando-se do compromisso histórico da ciência com a sociedade.
Durante décadas, a pesquisa científica foi conduzida por homens e mulheres que viam sua atividade não como um ofício isolado, mas como um compromisso coletivo. O trabalho paciente em campo ou em laboratório tinha como horizonte a transformação social: melhorar práticas agrícolas, desenvolver remédios acessíveis, compreender ecossistemas e prevenir colapsos ambientais. Esse ethos se sustentava em valores de integridade, persistência e responsabilidade social. O pesquisador era guardião de um pacto silencioso: investigar para servir.
Esses velhos cientistas, muitas vezes sem recursos ou reconhecimento imediato, construíram alicerces que permitiram a consolidação de áreas inteiras do saber. Sua grandeza estava menos na visibilidade de seus nomes e mais na solidez de seus resultados, que sustentaram políticas públicas, enriqueceram currículos acadêmicos e abriram caminhos para novas gerações.
Entretanto, sobre essa tradição repousa agora a sombra de um novo paradigma. O produtivismo acadêmico alimentado por sistemas de avaliação centrados em números de publicações, índices de impacto e rankings internacionais, alterou radicalmente a paisagem da pesquisa. O valor de um cientista passou a ser medido mais pela quantidade de artigos produzidos em curto espaço de tempo do que pela relevância social ou pela profundidade de suas descobertas.
Nesse contexto, consolidou-se a figura do pesquisador moderno, apto a atender às demandas de setores já estabelecidos, que financiam projetos e exigem resultados alinhados a seus interesses. O conhecimento passa a ser tratado como mercadoria, e a ciência se submete a uma lógica de mercado. O risco é que a pesquisa deixe de questionar, de propor alternativas, de olhar para os problemas invisíveis da sociedade, e se torne apenas reprodutora de verdades convenientes.
Esse entardecer da pesquisa revela um crepúsculo ético: a passagem de uma ciência que iluminava horizontes coletivos para outra que se contenta em reforçar estruturas já existentes. Ao privilegiar métricas, silencia-se a inquietação crítica, a busca pela justiça social e a coragem de enfrentar interesses consolidados. O cientista que ousa sair desse padrão corre o risco de ser marginalizado, visto como anacrônico ou improdutivo.
Assim, temas urgentes, como mudanças climáticas, segurança alimentar, justiça social ou conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, podem receber menos atenção, não por falta de relevância, mas porque não rendem o número desejado de publicações rápidas ou não atraem financiamento imediato. O preço é pago pela sociedade, que perde a potência transformadora da ciência.
Apesar desse cenário, o entardecer não precisa significar escuridão definitiva. O que se coloca é um chamado à reflexão: será que a comunidade científica aceitará reduzir-se a uma engrenagem de produtividade, ou terá a coragem de reivindicar novamente o sentido social da pesquisa?
O desafio é recuperar a dignidade do trabalho científico como prática ética e transformadora. Isso não significa negar os avanços trazidos pela modernização, mas reorientá-los: métricas podem ser úteis, desde que não sejam o fim em si mesmas; parcerias com o setor privado podem ser legítimas, desde que não aprisionem o conhecimento em moldes pré-definidos.
A ciência precisa voltar a olhar para o bem comum. Precisa sustentar sua legitimidade não apenas em números, mas em sua capacidade de responder às necessidades da sociedade, de antecipar crises, de propor alternativas criativas e de manter viva a inquietação crítica.
“O entardecer da pesquisa” não é apenas uma metáfora temporal; é um alerta ético. A ciência que se deixa aprisionar pelo produtivismo e pelo conforto do conhecimento consolidado corre o risco de perder sua alma. Recuperar o espírito dos velhos pesquisadores, comprometidos, pacientes, críticos e socialmente engajados, é fundamental para que não atravessemos a noite da irrelevância, mas sim para que possamos vislumbrar uma nova aurora, onde o conhecimento volte a iluminar o caminho coletivo da humanidade.
* Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de Campinas – IAC.