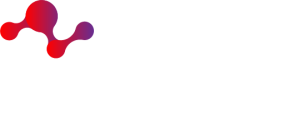Afonso Peche Filho*
Há momentos históricos em que a desconfiança deixa de ser uma reação pontual e se torna atmosfera. Ela não aparece como um ato explícito, mas como um pano de fundo constante, um “clima” que contamina decisões, reduz horizontes e altera silenciosamente o comportamento coletivo. Na pesquisa brasileira e, de modo particularmente agudo, no estado de São Paulo, esse clima parece ter se adensado: desconfiança nas políticas públicas, sensação de desmantelamento progressivo de institutos de pesquisa, redução de equipes, perda de continuidade e um sentimento difuso de ameaça em torno da carreira do pesquisador científico. Não se trata apenas de uma crise administrativa, mas de um fenômeno cultural e institucional: a desconfiança como novo estado natural.
A ciência depende de algo que raramente é dito com clareza: ela depende de estabilidade. Não de conforto, nem de complacência, mas de estabilidade mínima para formular perguntas, formar pessoas, manter séries históricas, preservar infraestrutura e construir acúmulos. Quando o ambiente institucional se torna errático, quando reformas surgem sem pactos e sem previsibilidade, quando prioridades mudam ao sabor de ciclos políticos curtos, a ciência perde seu solo. E como toda forma de conhecimento que exige tempo, ela é particularmente sensível a rupturas. A desconfiança, nesse contexto, não é um sentimento individual; é um indicador sistêmico de que a relação entre Estado, sociedade e produção de conhecimento entrou em zona de turbulência.
A desconfiança nasce, muitas vezes, de uma experiência repetida de descontinuidade. Um instituto perde quadros por aposentadoria e não repõe. Um laboratório envelhece, equipamentos deixam de ser calibrados, cadeias de suprimento falham, projetos se sustentam por improvisos. Linhas de pesquisa são interrompidas não porque foram refutadas, mas porque se tornaram inviáveis. Redes de cooperação se fragilizam. Ao mesmo tempo, anuncia-se “modernização”, “reestruturação” e “eficiência” em termos que, na prática, podem significar compressão de equipes, redefinição apressada de carreiras e incerteza sobre missões institucionais. O resultado não é apenas queda de produtividade; é corrosão de confiança. E quando a confiança se corrói, cada novo anúncio é recebido não como promessa, mas como ameaça potencial.
Essa percepção se intensifica quando a ciência é tratada como mera ferramenta de curto prazo. Em certos discursos, pesquisa é valiosa apenas se entregar “produto” imediato, preferencialmente quantificável no curto ciclo de governo. Mas a função social da ciência é mais profunda: ela constrói capacidade de antecipação, senso de limite, inteligência territorial, avaliação de risco e alternativas técnicas para dilemas complexos. Institutos públicos, em especial, carregam uma vocação que não se mede só por patentes: eles guardam memória científica do território, conhecimento de base sobre solos, água, sanidade vegetal, biodiversidade, clima, monitoramento ambiental, extensão e políticas de uso da terra. Desmontar essas capacidades é como vender as vigas de uma casa para pagar a pintura: o resultado pode parecer “ajuste” no presente, mas compromete a sustentação do futuro.
A carreira do pesquisador científico, nesse cenário, torna-se um símbolo. Quando se fala em reestruturação, o que está em disputa não é apenas um plano de cargos e salários, mas a própria imagem do pesquisador como servidor do interesse público. Se a carreira perde atratividade e previsibilidade, o sistema perde talentos. Se a progressão e a avaliação passam a obedecer lógicas que não reconhecem a natureza do trabalho científico (que inclui erro, risco, espera e séries longas), cria-se um descompasso entre o que o sistema exige e o que a ciência pode entregar com integridade. E, então, a desconfiança se converte em autopreservação: profissionais adotam estratégias defensivas, evitam projetos longos, reduzem exposição pública e passam a “sobreviver” em vez de construir. O dano maior não é apenas material; é moral e cognitivo.
Há ainda uma dimensão política delicada: a ciência, quando funciona, frequentemente estabelece limites. Ela não serve apenas para ampliar o possível; serve também para demonstrar o impossível, o arriscado, o insustentável. Isso cria atrito com interesses econômicos e com narrativas de desenvolvimento. Quando a pesquisa aponta limites ambientais, sanitários ou territoriais, ela pode ser percebida como obstáculo. E, em um ambiente de polarização e disputa de narrativas, a desconfiança pode ser cultivada: questiona-se a legitimidade do instituto, relativiza-se a evidência, acusa-se “ideologia”, reduz-se a ciência a opinião. O resultado é a desinstitucionalização simbólica do conhecimento: a ciência deixa de ser referência comum e se torna mais um objeto de guerra cultural.
No entanto, a desconfiança não é destino. Ela é um sintoma que pode orientar reconstrução, desde que se reconheça o problema em sua profundidade. Recuperar a confiança exige mais do que discursos de valorização; exige pactos concretos e verificáveis. Exige reposição planejada de quadros, programas de longo prazo, estabilidade orçamentária mínima, clareza de missão institucional, governança transparente e avaliação aderente ao trabalho científico real. Exige também respeito às especificidades dos institutos: sua função não é replicar a lógica empresarial, mas garantir bens públicos de conhecimento, monitoramento, inovação e suporte técnico às políticas. A ciência pública não é luxo: é infraestrutura invisível da soberania territorial e da resiliência econômica.
E há um aspecto humano que não pode ser ignorado: cientistas são pessoas. Quando um pesquisador percebe que seu trabalho será interrompido por decisões alheias ao mérito técnico, ele aprende a desconfiar. Quando equipes veem laboratórios se esvaziarem e agendas se dissolverem, elas aprendem a reduzir expectativas. Essa aprendizagem é perigosa, porque se normaliza. A desconfiança vira hábito. E, quando vira hábito, ela transforma um sistema inteiro: instituições passam a operar no modo defensivo, não no modo criativo.
“Desconfiança como novo estado natural” é, portanto, um retrato e um alerta. Retrato de um tempo em que o vínculo entre ciência e políticas públicas se torna instável; alerta de que a erosão institucional é cumulativa e silenciosa, como processos de degradação ambiental que só chamam atenção quando já passaram do ponto de retorno. Reverter essa trajetória não depende apenas de recursos, embora eles sejam indispensáveis, mas de uma decisão civilizatória: reconhecer que pesquisa não é gasto ajustável ao humor do momento, e sim um compromisso contínuo com a inteligência coletiva do território.
Se a desconfiança se instalou como atmosfera, a tarefa do presente é criar condições para que ela volte a ser exceção. Isso implica tratar institutos como patrimônios estratégicos, carreiras como instrumentos de continuidade e a ciência como linguagem pública de responsabilidade. Em última instância, a confiança na pesquisa é também confiança na possibilidade de futuro. Sem ela, não se perde apenas uma política; perde-se a capacidade social de aprender antes de colapsar.
* Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de Campinas -IAC.