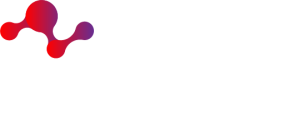A progressiva consolidação e, hoje, onipresença da internet e suas redes sociais como espaço de produção de sentidos levaram as sociedades contemporâneas a uma espécie de caos comunicacional, que coloca em disputa o desafio permanente de estabelecer o que é verdade. Ou, como postula o filósofo e historiador francês Michel Foucault(1926-1984), a “política geral” da verdade, o regime discursivo que, desde o século XV, com base no pensar e fazer científico, detinha a primazia de distinguir o verdadeiro e o falso dos enunciados em circulação no espaço público.
E digo “tinha” porque o estatuto de verdade baseado na ciência – e difundido por canais legitimados pela comunidade perita, entre eles a imprensa generalista –, já não é hegemônico.
Com a emergência do mundo virtual, a informação de qualidade, aquela submetida a diferentes níveis de validação e checagem, passou a disputar o espaço público com uma miríade de fenômenos discursivos – negacionismos, desinformation/misinformação, fake news, infodemia – que instauraram a chamada “pós-verdade”.
Eleita a palavra do ano de 2016, a pós-verdade foi tecida num longo processo de tensionamentos da credibilidade da política, da imprensa e da própria ciência, instituições centrais do projeto moderno que nomeou, enfim, um complexo regime discursivo, o qual, desde o início do século XXI, sob uma nova ordem neoliberal, viabilizou a emergência de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a expansão da internet.
Esse aparato sociotécnico colocou em concorrência dois regimes discursivos: de um lado, o da verdade baseada no saber científico, em corpos de saber disciplinares; de outro, o da pós-verdade, fincado no testemunho pessoal, na emoção, na crença e nos valores subjetivos.
Embora boatos sejam tão antigos quanto a própria necessidade humana de se comunicar, a pós-verdade é um fenômeno do nosso tempo, estreitamente vinculado às mídias digitais, que impuseram outra forma de circulação das informações, viabilizando a propagação massiva das mensagens e afetos, sejam eles baseados em regimes de verdade (disciplinares) ou de pós-verdade (testemunhais), em tempo real e incontrolavelmente.
Negacionismo, desinformação e fake news
De abrangência global, esses discursos fraudulentos ganharam escala, afetando de modo generalizado todas as dimensões da vida cotidiana, em particular as mais sensíveis, como a saúde.
E impôs desafios inéditos e complexos aos sistemas de gestão, que agora, além de enfrentar questões clássicas do processo saúde-doença, também precisam lidar com discursos que negam a ciência e desinformam, tais como:
recusa e menosprezo a ações de saúde baseadas em evidência;
defesa e prescrição de protocolos cientificamente ineficazes ou mesmo de risco;
campanhas de difamação, desqualificação e deslegitimação de políticas, programas e ações públicas de saúde.
Potencialmente, esses discursos afetam a tomada de decisão de cada indivíduo e da coletividade quanto ao cuidado que aceitarão receber dos sistemas e dos profissionais de saúde, produzindo novos eventos ou contribuindo para o agravamento de velhos conhecidos da saúde coletiva.
Para ficar num só exemplo, estudos brasileiros já demonstram que o negacionismo, a desinformação e as fake news são os principais fatores de hesitação vacinal na imunização contra a covid-19. Daí a distinção conceitual entre esses fenômenos ser uma das estratégias para o seu enfrentamento.
Neste breve ensaio, limito a reflexão a três deles: negacionismo, desinformação e fake news.
Classicamente, negacionismo é o discurso que recusa/nega o método científico, emergindo contemporaneamente como a expressão de “uma crise epistemológica, que se traduz na perda de confiança em instituições fundamentais da sociedade, dentre as quais a própria universidade [academia]”.
Os negacionistas – em geral pessoas sem especialização ou competência técnica, mas também especialistas – se apropriam de símbolos e signos da ciência para eleger novas autoridades epistêmicas, inventando competências que lhes dê destaque na arena pública e, frequentemente, ganhos políticos e financeiros.
Subvertendo valores de reconhecimento e autoridade da ciência, eles criam suas próprias autoridades, construindo seu discurso em torno de argumentos retóricos pseudocientíficos que dão aparência de debate legítimo onde ele nem sequer existe.
Como regra, o discurso negacionista é usado contra um consenso ou evidências contundentes por pessoas que têm poucos ou nenhum fato para apoiar seu ponto de vista, empregando um conjunto de táticas para causar impactos discursivos no curto prazo.
Cito três delas para demonstrar como elas podem afetar o campo da saúde.
Vejamos a tática da seletividade, escolha deliberada de dados fora do contexto para sugerir que os achados científicos estão errados. Negacionistas seletivos valem-se do fato de que o conhecimento é sempre provisório para sustentar seus argumentos em artigos isolados, com evidências fracas ou já suplantadas.
Um exemplo emblemático: o artigo que sugeriu a associação entre vacina tríplice viral e autismo, publicado em 1998 no prestigioso periódico The Lancet.
Metodologicamente frágil, descobriu-se, depois, que o estudo era também eticamente reprovável – seu autor convocou os participantes, 12 pessoas, por meio de um advogado que também levantara fundos para uma pesquisa que ele liderava sobre… vacina tríplice! Só mais de uma década depois, em 2010, quando o médico teve seu registro cancelado pelo conselho de medicina britânico, o periódico suprimiu o artigo de suas bases. Apesar disso, é ainda hoje exaustivamente citado por militantes do movimento antivacina.
Há também a tática dos falsos especialistas ou de produção duvidosa. Vários desses negacionistas têm formação acadêmica e emprestam suas credenciais para sustentar teses sem respaldo científico.
No Brasil, sobretudo no início da pandemia de covid-19, quando a comunidade científica ainda estava mergulhada em profundas incertezas sobre o presente e o futuro, muitos médicos sem quaisquer vivências em epidemiologia, virologia ou infectologia – campos de excelência em eventos epidêmicos – apresentaram-se como especialistas nas redes sociais e – pasmem! – na imprensa generalista.
Os falsos especialistas também propagam acusações que desacreditam o trabalho de cientistas sérios.
Foi o que aconteceu com o renomado epidemiologista norte-americano Stanton Glantz, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que por expor as estratégias da indústria do tabaco para viciar as pessoas tornou-se alvo frequente de difamadores, que o classificaram como o mais notável integrante “da gangue de vigaristas [epidemiologistas]” e a epidemiologia, como “junk science”.
Por fim, temos a tática conspiracionista que prega que a validação da ciência não seria o resultado do consenso entre pares com base em evidências científicas, mas sim do envolvimento destes em uma conspiração complexa e secreta.
Logo no início da pandemia, em 2020, conspiracionistas inundaram as redes sociais com a tese de que o vírus Sars-CoV-2 teria sido produzido em laboratório pelo governo comunista chinês para destruir o Ocidente capitalista.
Já a desinformação é a tentativa deliberada (e frequentemente orquestrada) de confundir ou manipular pessoas por meio de informações desonestas, intencionalmente produzidas e disseminadas para causar prejuízos.
Seu par é a misinformação (neologismo do inglês misinformation), que trata do compartilhamento de informação falsa, enganosa, equivocada ou incorreta, mas sem intenção de prejudicar.
Histórias que “bagunçam” os sistemas de saúde
Já as fake news são definidas como agentes de desinformação propositalmente criadas e disseminadas com o intuito de prejudicar e influenciar pessoas, cuja principal característica é simular a estrutura discursiva e os formatos documentais e jornalísticos.
Talvez o fenômeno mais conhecido seja seu uso com fins político-ideológicos, abarcando uma infinidade de textos e contextos.
São histórias falsas, muitas vezes sensacionalistas, criadas para amplo compartilhamento on-line e com objetivo de gerar receitas publicitárias por meio do tráfego internético, em geral para desacreditar figuras públicas, movimentos políticos e sociais, sabotar empresas.
Por mais absurdos ou risíveis que possam parecer,esses discursos nunca são inocentes, desinteressados, inconsequentes. Potencialmente, têm consequências graves para as sociedades.
No caso da covid-19, estudos nacionais e internacionais já demonstraram como eles “bagunçaram” os sistemas de saúde, sobrecarregando-os, desarticulando-os e, por fim, contribuindo para a morte de pessoas.
Assim, o que está em jogo nesses fenômenos, de modo geral e na saúde, em particular, é a tensão entre a confiança e a desconfiança na política, na ciência e no Estado, em direção a uma experiência construída pessoal e intimamente. Por seu potencial em colocar em risco a saúde e a vida das pessoas e das populações, é imperioso combatê-los.
Cláudia Malinverni é graduada em comunicação social, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), diretora do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para o SUS-SP e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde.
Originalmente publicado em Science Arena.