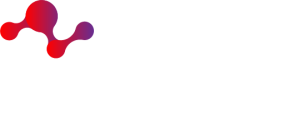Nascido no dia 28 de novembro de 1937, Carlos Eduardo de Mattos Bicudo, que em 2025 completa 87 anos, é hoje uma referência nacional no estudo de algas continentais. Sua trajetória científica atravessa meio século de dedicação à ficologia e à limnologia no Brasil, com contribuições decisivas à taxonomia, ecologia e ensino de organismos aquáticos microscópicos — sobretudo desmídias e fitoplâncton continental. Reconhecido dentro e fora do país, Bicudo orientou dezenas de mestres e doutores, publicou centenas de artigos e organizou obras fundamentais para o conhecimento das algas em água doce. É membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC), membro emérito das sociedades de botânica e limnologia e agraciado com prêmios como a Medalha de Mérito Botânico “Graziela Maciel Barroso”.
Como cientista, ele foi um dos pioneiros a sistematizar o estudo taxonômico de algas continentais brasileiras, destacando gêneros pouco estudados, oferecendo chaves de identificação e estimulando o uso de publicações em português para divulgar esse conhecimento entre jovens pesquisadores e gestores ambientais. Sua influência é também pedagógica: muitos dos principais ficólogos e limnólogos do Brasil passaram por sua orientação ou foram impactados por seus livros e artigos.
Nesta ocasião, ele falou longamente à APqC e compartilhou sua trajetória, sua visão de mundo e seu compromisso com a ciência brasileira.
APqC – Ao olhar para sua trajetória desde os anos 1960 até hoje, quais momentos você considera decisivos para consolidar sua carreira em taxonomia de algas continentais?
Bicudo – Menciono primeiro meu início no então Instituto de Botânica (IB), hoje Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA). Havia passado por duas experiências um tanto nefastas estagiando em duas instituições científicas na cidade de São Paulo. Primeiro, o supervisor do estágio informou-me que o treinamento seria realizado em regime de tempo integral, com uma hora para o almoço. Nessa época, só havia uma linha de ônibus da CMTC destinada ao Instituto Butantã, com apenas um carro para fazer o trajeto de ida e volta. Assim, se perdêssemos o ônibus das sete, só depois de uma hora haveria o seguinte. Tentei levar almoço, mas fui proibido de esquentar e comê-lo no laboratório, pois apenas material virulento (bactérias causadoras de enfermidades) era ali trabalhado. Também ainda não existia o forno de micro-ondas em São Paulo. Tentei comer na lanchonete da instituição, mas recusaram-se a esquentar minha marmita, e não poderia comer de marmita na lanchonete. Era obrigatório comprar meu almoço ou lanche. Mas, com que dinheiro? Nem pensar em bolsa de estudos, porque ainda não existia a FAPESP e o CNPq mal começava. Tudo isso pensado e repensado, desisti do estágio.
E o que fez após a desistência?
Surgiu-me outra oportunidade: a de estagiar no Instituto Paulista de Oceanografia (hoje Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo). Fui de peito aberto, mesmo sem bolsa de estudos, mas para realizar o estágio apenas no horário da tarde (horário de funcionamento do Instituto). O Instituto ficava na Alameda Eduardo Prado, na Barra Funda, muito próximo da Alameda Glete, onde frequentava o Curso de História Natural no período noturno. Levava um lanche para a noite e rumava direto para a Alameda Glete. Mas logo descobri que eu estava ilustrando a tese de doutorado do meu supervisor na instituição. Pedia-lhe insistentemente que me desse alguma literatura para conhecer os animais que ilustrava, ao que sempre respondia dizendo que a ilustração era absolutamente fundamental para conhecer a estrutura dos animaizinhos. “É preciso observar e saber observar”, dizia. Após liberar minha ilustração, o supervisor a guardava em uma escrivaninha e dava-me outro animal para ilustrar. Já havia trabalhado quatro ou cinco desses animais, todos muito parecidos, quando, um dia, meu supervisor avisou-me de que precisava sair mais cedo e que eu não esquecesse, ao sair, de fechar as janelas, apagar as luzes e fechar a porta do departamento, pois ali ficaria sozinho. De uma janela da sala onde estagiava, vi o supervisor sair com seu carro. Esperei uns 15 minutos e fui tentar descobrir o destino das minhas ilustrações. Grande desapontamento, pois estava ilustrando sua tese de doutorado. Saí essa tarde e jamais voltei ao Oceanográfico.
Essas “frustrações” iniciais impactaram de alguma forma sua visão sobre o ambiente acadêmico e científico?
A partir desse momento, fiquei bastante refratário a estagiar em alguma instituição científica. Mas um colega de faculdade, João Salvador Furtado, insistia demais para que fosse tentar estágio no Instituto de Botânica. Recusei várias vezes a oferta, sempre com alguma desculpa um tanto esfarrapada. Um dia, já cansado de me desculpar, cedi e comprometi-me a fazer uma visita em um sábado ao tal Instituto de Botânica, na verdade ao Jardim Botânico, onde estava sediado o Instituto. Visitei o Jardim Botânico, pois o Instituto estava fechado. Nessa época, as instituições tinham expediente só de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, das 12h às 18h. Encantei-me com o Jardim Botânico e concordei em estagiar no Instituto de Botânica. Fui estagiar na recém-criada Seção de Criptógamos, chefiada pelo Oswaldo Fidalgo. Este senhor foi a segunda razão do meu encanto pela ciência. Ele e sua esposa, Maria Eneyda, receberam-me e a todos os demais estagiários com o coração aberto e a manifesta intenção de nos formar profissionais na pesquisa científica. Fidalgo me ensinou que um pesquisador tinha que mostrar seu trabalho em reuniões científicas e publicar. Incentivou-me a apresentar meu primeiro trabalho no Congresso Nacional de Botânica, realizado em São Paulo em 1961, e publicá-lo em Rickia, uma revista científica recém-criada no Instituto de Botânica para divulgar trabalhos em criptógamos. Comecei, então, minha carreira de pesquisador científico. E o terceiro momento que se me abriu foi a ida aos Estados Unidos para trabalhar com o Dr. Prescott.
Como surgiu seu primeiro interesse por microrganismos aquáticos ainda durante a graduação em História Natural? Você recorda os desafios iniciais dessa escolha?
Meu interesse por microrganismos aquáticos surgiu ainda durante a disciplina sobre sistemática vegetal, lecionada no segundo ano do Curso de História Natural na USP. Primeiro, sempre gostei do microscópio como ferramenta de trabalho. Depois, porque sempre tive fascínio por coletar água aparentemente sem vida animal ou vegetal e logo deparar-me ao microscópio com uma infinidade de organismos nadando celeremente. Entre os organismos, alguns eram destituídos de cor e outros fascinantemente pigmentados, uns quietos e outros ativamente móveis, certos deles mantinham sua forma constante ao se deslocar, enquanto outros a mudavam constantemente; alguns eram esféricos e outros exibiam formas até bizarras, plenas de recortes e saliências. Aprendi que as formas pigmentadas eram basicamente as algas e que entre elas ocorria uma verdadeira aquarela de cores, uma quantidade indefinida de formas e organismos móveis e imóveis. Foi amor à primeira vista: apaixonei-me pelas microalgas. Apresentando-me no Instituto de Botânica, apresentei ao Dr. Fidalgo meu interesse pelas microalgas de águas doces, e foi-me imediatamente concedido o estágio para estudar esses organismos. Diria, por fim, que meu interesse pelas algas se deveu um pouco por conta de meu espírito artístico e um pouco pela minha curiosidade pelo desconhecido.
Seu estágio com o Prof. Samuel Murgel Branco foi um marco importante. Que lições de taxonomia adquiridas naquela fase você considera mais duradouras?
O estágio com o Prof. Samuel Branco foi simplesmente maravilhoso. Dois anos, durante dois dias por semana, deram-me o conhecimento fundamental sobre os gêneros de microalgas que habitavam as águas de abastecimento do Estado de São Paulo. Aprendi muito, muito mesmo. Samuel ensinou-me as características morfológicas importantes para identificar cada gênero. A literatura era bastante escassa e tudo o que me ensinou decorreu de seu conhecimento particular e de um estágio que fizera com o Dr. Charles Mervin Palmer, especialista em taxonomia de microalgas dulcícolas do Robert A. Taft Sanitary Engineering Center, em Cincinnati, Estado de Ohio, EUA, quando ele esteve pela primeira vez no Brasil por curto período de tempo. Samuel era uns cinco ou seis anos mais velho do que eu, e a proximidade de idade, aliada ao seu espírito maravilhoso de entrega e comunicação, fizeram com que nos tornássemos excelentes amigos — amizade que perdurou até seu passamento. Mas, um dia, enquanto estava frequentando o laboratório do Samuel, ele me disse que não adiantava mais eu continuar com o estágio, pois ele já havia me ensinado tudo que sabia, que eu já dominava bastante bem a identificação de gêneros e que doravante necessitaria identificar espécies — e que ele, Samuel, não sabia como fazê-lo. O D.A.E., o Departamento de Águas e Esgoto, só trabalhava nessa época com o nível gênero. Aconselhou-me, então, a conversar com o Fidalgo sobre essa nova situação e, com ele, buscasse como resolvê-la. Retornando no dia seguinte ao Instituto de Botânica, passei essa conversa para o Fidalgo. “Eu também penso assim”, disse-me, “mas o problema é que no Brasil não existe esse orientador”, e mostrou-me o livro Who’s Who in America (traduzindo: Quem é quem na América), uma coletânea que listava, em ordem alfabética, todas as pessoas que trabalhavam com algum tipo de ciência nas Américas. Fornecia nome completo, endereço profissional e, em breves palavras, o tipo de pesquisa que cada profissional realizava e/ou lecionava. Um calhamaço impresso em papel bíblia, com ao redor de mil páginas. “Busque alguém que possa orientá-lo e à Rosa Maria”, finalizou Fidalgo. Foram dias e dias buscando um possível orientador, quando descobrimos um casal que nos caía como açúcar no mel: o casal Daily, em Cincinnati, Ohio. Ele, William, trabalhava com taxonomia de Cyanophyceae (hoje Cyanobacteria), e ela, com taxonomia de Characeae. Por conselho do Dr. Palmer, que havia estado no Instituto de Botânica dando-nos um curso sobre taxonomia de algas de águas continentais, Rosa Maria e eu deveríamos nos dedicar a grupos diferentes de algas e sugeriu que eu ficasse com as formas unicelulares e coloniais e a Rosa Maria com as formas filamentosas. O casal Daily nos pareceu os orientadores ideais, pois ele estudava, basicamente, as formas unicelulares de vida livre ou fixas a algum substrato e as formas coloniais; e ela, as formas multicelulares filamentosas ramificadas. Submetemos nossa escolha ao Fidalgo, que imediatamente a aceitou, mas sugeriu que a apresentássemos ao Dr. Aylthon Brandão Joly, na USP. Lá fomos para a Cidade Universitária e apresentamos nossa escolha ao Dr. Joly. “A ideia é boa, mas não concordo com a escolha”, disse-me de pronto o professor. “Por quê?”, perguntei. “Porque você”, argumentou Joly, “é o primeiro pesquisador brasileiro a dedicar-se à taxonomia das algas de águas doces no Brasil e não pode, portanto, especializar-se. Você tem que ser eclético, conhecer a taxonomia de todos os grupos de algas, porque você terá a incumbência natural e obrigatória de capacitar os brasileiros que buscarem especializar-se nesse grupo de organismos. E tenho a sugestão de um nome para seu orientador: Gerald Webber Prescott, em Michigan, na Michigan State University. Conheci-o recentemente quando estagiava em Ann Arbor, na University of Michigan, e pareceu-me, assim que o conheci, um orientador feito sob medida para você”, referindo-se a mim. Sabia lá eu quem era Prescott, mas retornei ao Instituto de Botânica e fui imediatamente consultar o Who’s Who in America para saber um pouquinho mais sobre esse Prescott e conversar com o Fidalgo, que achou ótima a sugestão do Joly. O passo seguinte foi consultar Prescott para saber se poderia vir a São Paulo e dar-me um treinamento para identificar espécie em alga.
A expedição à Patagônia com o Prof. G. W. Prescott e o mestrado na Michigan State University foram etapas importantes nesse processo? Que impacto essas experiências tiveram sobre sua formação científica e sua visão de pesquisa no Brasil?
Vivi, então, outro momento fundamental na minha vida tanto particular quanto científica. Gerald Webber Prescott era, na época, professor no Departamento de Botânica e Fitopatologia da Universidade Estadual de Michigan (Michigan State University), em East Lansing, Michigan. Fidalgo convidou-o, em seguida, para passar um mês no Instituto de Botânica e ensinar-me a identificação de espécies de algas de água doce. Doutor Prescott respondeu que não poderia vir, pois havia assumido compromisso com a Argentina no período exato em que Fidalgo sugeriu para ele vir a São Paulo. Fidalgo sugeriu, então, que o Dr. Prescott viesse um mês antes e daqui iria para a Argentina ou, então, um mês em seguida ao retorno da Argentina para os Estados Unidos. Dois solenes não. Doutor Prescott informou que tinha uma licença de três meses da Universidade Estadual de Michigan para realizar a viagem à Argentina e que tinha disciplinas a lecionar antes e após a licença. Mas abriu-me uma oportunidade. Disse ao Fidalgo que enviasse o estudante — eu — para a Argentina, para estar com ele e aprender a identificação de espécies. Fui. Chegando em Buenos Aires, deixei, imediatamente, minha mala no quarto de um hotel e saí procurando o tal edifício de granito róseo na rua Billingurst, onde, disseram-me, morava o Dr. Sebastián Alberto Guarrera, hospedando o Dr. Prescott. Tomei um táxi e pedi ao motorista que me deixasse no começo da rua. Liberando o táxi, comecei a procurar um edifício cuja entrada fosse de granito róseo e, cada vez que encontrava um, perguntava ao respectivo porteiro se ali morava o Prof. Guarrera. E aqui valeu a lei de Murphy, pois foi no último edifício, já no final da rua, que minha indagação foi confirmada. “Sim”, respondeu o porteiro. Pedi a ele que dissesse ao Prof. Guarrera que eu havia recém-chegado do Brasil, estava na portaria do edifício e gostaria muito de conversar com ele. Fui recebido de pronto. Subi ao andar que me indicou o porteiro e lá estava o Prof. Guarrera na porta do apartamento, aguardando-me. Apresentei-me em português muito brevemente e fui convidado a entrar. A enorme surpresa: o Dr. Prescott estava sentado em uma poltrona na sala. Apresentei-me a ele em inglês. Doutor Prescott sabia que eu iria encontrá-lo na Argentina e contou ao Prof. Guarrera os entendimentos que tivemos via cartas e aerogramas. “Ele será bem-vindo à nossa excursão”, afirmou o Prof. Guarrera, “mas temos problema no transporte daqui a Bariloche.” E continuou: “A estrada é ruim, temos que viajar devagar, com o mínimo de peso possível, e o carro já está preparado para tanto. Não temos lugar para ele, mas, se ele quiser, poderá nos encontrar em Bariloche. Nos encontraremos à tarde do dia (não lembro qual) na praça central da cidade, em frente ao monumento”, disse. Topei o esquema, conversamos um pouco em inglês com o Dr. Prescott e o Prof. Guarrera. Professor Guarrera falava pouco inglês — descobri isso mais tarde — e passei muito logo a ser o intérprete bilíngue nas conversas com os dois. Doutor Prescott falava em inglês com o Prof. Guarrera, eu traduzia para o espanhol e o último falava em espanhol com o Dr. Prescott e eu traduzia para o inglês. As viagens de coleta aos lagos cordilheiranos da região de Bariloche, às turfeiras da Terra do Fogo e aos ambientes tropicais da região de Córdoba foram simplesmente espetaculares. Aprendi a coletar material de algas, aprendi a identificar algumas espécies durante os dias que passávamos, entre duas expedições de coleta, no Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, em Buenos Aires, preparando a próxima expedição. Foram muitos momentos mais ou menos curtos, mas de aprendizado profundo. Sempre chegava, de propósito, antes do Prof. Prescott e saía após ele sair. Nunca lhe dei “bom dia” ou “até amanhã”. Sempre respondi. Coletamos bastante material em Córdoba e retornamos de trem para Buenos Aires. Pela terceira vez, segui no Museo a rotina já estabelecida, examinando material e conversando muito com o Dr. Prescott. Após uma semana, chegou o dia em que o Dr. Prescott deveria retornar aos Estados Unidos e decidi que também havia chegado, para mim, o dia de retornar ao Brasil. Minha despedida do Prof. Guarrera foi simples: um forte aperto de mão, um abraço e as palavras de um bom anfitrião — “volte, volte que o Museo sempre estará com as portas abertas para você”. A despedida do Dr. Prescott foi diferente. Após apertar-me a mão com indisfarçável carinho, perguntou-me o que iria fazer ao retornar ao Brasil. “Vou colocar em prática tudo o que aprendi aqui”, respondi. Perguntou-me, então, imediatamente: “Só isso?” “Só isso por quê?”, indaguei, ao que ele emendou: “Você não pensa em ir para o exterior, para os Estados Unidos?” Meu Deus, era tudo o que eu mais queria ouvir. “Sim, é o meu maior sonho”, disse-lhe. “Então”, concluiu ele, “estamos no meado de março; esteja lá na Michigan State University dia 15 de setembro que vem, para continuar este estágio comigo.” Quase morri de tanta alegria, pois era tudo o que sonhava, que mais queria. Havia conseguido mostrar ao Dr. Prescott minha enorme vontade de aprender e de trabalhar com as algas. Para finalizar a despedida, ajuntei: “Pode me esperar, estarei lá.” Cá entre nós, não tinha a menor ideia se poderia ir e, principalmente, de como ir. Mas a tremenda vontade de ir para Michigan trabalhar com o Dr. Prescott levou-me a esse quase desvario. Consegui ir para os Estados Unidos, onde passei dois anos e meio e aprendi a essência da identificação de espécies e categorias infraspecíficas em algas. Fiz visitas aos melhores centros que desenvolviam pesquisa com microalgas de águas continentais, conheci vários dos “top” especialistas nos diversos grupos de algas e consegui inglês mais do que suficiente para ler, escrever e, mais do que tudo, para falar. Minha passagem pelos Estados Unidos foi um verdadeiro turnover científico. Ao comunicar ao Dr. Prescott minha decisão de voltar ao Brasil, ele me sugeriu ficar para o doutorado, mas a lei brasileira que regia a permanência de funcionários públicos no exterior só autorizava quatro anos, e eu só teria mais um ano e meio — tempo não suficiente para o doutorado.
Ao longo de sua carreira, você orientou dezenas de mestres e doutores. Que perfil você buscava nos orientandos e que critérios considera mais importantes na formação de ficólogos e limnólogos hoje?
O então Instituto de Botânica (hoje Instituto de Pesquisas Ambientais) não podia manter, por lei, curso universitário de graduação, mas podia ter de pós-graduação sensu stricto. Por conta da excelência do Instituto de Botânica, foi-lhe autorizado pelo Ministério da Educação e Cultura criar um programa de pós-graduação, que funciona desde 2002. Como não temos curso de graduação, jamais pude escolher estudantes que manifestassem características para seguir uma pós-graduação. Tive exatamente uma centena de estudantes de mestrado e doutorado sensu stricto e todos eles me procuraram buscando a possibilidade de cursar mestrado ou doutorado. E sempre fui agraciado com excelentes estudantes. Meu primeiro estudante foi Ana Maria Giulietti, de doutorado, a pedido do Dr. Aylthon Brandão Joly em seu leito de morte. A partir de então, formei estudantes aos quais procurei passar ciência, é claro, mas também — e mais do que tudo — o que é uma vida científica, a necessidade de publicar em boas revistas com corpo editorial e bom fator de impacto, frequentar congressos e outros certames científicos sempre apresentando trabalho, e jamais recusar uma participação maior (ministrando minicursos, proferindo palestras e participando de mesas-redondas ou similares). Tenho ex-alunos que chegaram a ser professores titulares em suas universidades, outros que dirigiram sociedades científicas, na qualidade até de presidente, ainda outros que participaram de comitês científicos de entidades de apoio à ciência e à tecnologia. Todos esses alunos mostraram imensa capacidade de análise e síntese, de redação e divulgação de suas pesquisas, de formação de recursos humanos extremamente capacitados. E é isso que ficólogos e limnólogos necessitam para vencer em suas respectivas carreiras.
Dentre suas obras mais citadas estão os volumes de Gêneros de algas de águas continentais do Brasil e as traduções do Código Internacional de Nomenclatura. Que importância você vê em produzir obras em língua portuguesa para a comunidade científica brasileira?
São duas obras que chamamos de infraestrutura. O livro de gêneros foi idealizado para introduzir estudantes na taxonomia das algas de águas continentais. O Brasil carecia totalmente de obra nesse sentido e me animei, por isso, a produzir o livro de gêneros, que em três meses esgotou a edição de 500 exemplares. Foi adquirido por brasileiros e vários profissionais das Américas do Sul e Central. Eu não esperava essa procura, nem a editora. Fui solicitado a autorizar uma segunda tiragem do livro. Mas a primeira tiragem saiu com alguns erros de digitação e mesmo de informação científica. Resolvi, então, rever integralmente a primeira edição e encaminhar à editora uma segunda edição revista e corrigida. Alguns anos mais e produzi a terceira edição, desta vez ampliada, com todos os gêneros cuja presença foi dada a conhecer após a segunda edição do livro. Esta edição também está esgotada. O Código de Nomenclatura é uma ferramenta absolutamente necessária e indispensável para os taxonomistas de algas, fungos e plantas. Uma averiguação que fiz revelou que 70% dos profissionais taxonomistas no Brasil não conheciam o Código ou, se conheciam, não o utilizavam. Isso porque, em parte, o Código era produzido na Europa em inglês, francês e alemão (por curto tempo também em espanhol) e pouco ou pouquíssimo chegava ao Brasil. A sociedade que produz o Código resolveu, então, permitir sua tradução para outras línguas e aí entrou a versão em português. Já providenciamos, Jefferson Prado e eu, a tradução de quatro códigos sucessivos, o último editado pelo Congresso Internacional de Botânica realizado em Shenzhen, na China. Com Jefferson, lecionamos já mais de 100 disciplinas sobre o Código em cursos de pós-graduação no Brasil todo, e para os quais afluíram estudantes de vários países da América Latina. Tanto o livro de gêneros como o Código de Nomenclatura foram obras absolutamente necessárias que permitiram um upgrade de conhecimento profissional em nosso país e em vários outros latino-americanos.
Em sua opinião, quais foram os maiores avanços na ficologia e limnologia no Brasil nas últimas décadas, e em que áreas ainda mais progresso é necessário?
Na ficologia, o Brasil evoluiu muito. De fato, saiu praticamente do zero e hoje ocupa posição de proa no contexto internacional. Começamos com os estudos taxonômicos, pois era imprescindível conhecer as algas, fungos e plantas que crescem neste país-continente. Mas também nos enveredamos pela ecologia, pela fisiologia, pela genética, pela citologia e, recentemente, pela biologia molecular das algas. Esses conhecimentos permitiram uma taxonomia mais acurada da nossa flórula de algas e também conhecer aonde vivem e como vivem. Conhecemos hoje, com minúcias de detalhes, a ecologia das microalgas de nossos reservatórios, que emprestamos para o conhecimento da qualidade da água e dos processos de sua contaminação. Subsidiamos as companhias estaduais e municipais que trabalham no campo em todo o Brasil. Formamos cabeças para trabalhar nas CETESBs e SABESPs do Brasil.
Muitos de seus estudos lidam com ecologia de fitoplâncton e variação ambiental em reservatórios. Que desafios metodológicos você enfrentou e que mudanças observou ao longo dos anos nas técnicas de monitoramento e análise?
O pouco que o Brasil trabalhou na primeira metade do século passado e em parte da segunda, na contaminação e produção de água boa para consumo, o fez em nível gênero, como em todo o mundo. Mas, na Europa e na América do Norte, já se introduzia nesses estudos uma taxonomia mais minuciosa. A introdução das categorias infragenéricas só foi possível após o início dos estudos taxonômicos das algas no Brasil. E aí tivemos uma parcela importante ao formar profissionais competentes nessa área de especialização. Com a introdução das companhias que se incumbem da aplicação de uma taxonomia mais acurada em seu trabalho rotineiro, veio também o emprego de técnicas mais específicas para análise e monitoramento da informação obtida. Essas atualizações colocaram o Brasil hoje em um patamar verdadeiramente internacional, que permite relacionar nossos achados com aqueles de qualquer outra parte do mundo. Estamos perfeitamente inseridos no contexto mundial.
O Brasil enfrenta hoje desafios ambientais como eutrofização, poluição hídrica e mudanças climáticas. Como suas linhas de pesquisa em algas podem contribuir para mitigação, gestão ou alerta desses problemas?
Não se estuda eutrofização, poluição aquática nem mudanças climáticas se não conhecermos os organismos que vivem nos ambientes. Como disse no início, taxonomia é ciência de infraestrutura, é o conhecimento fundamental absolutamente necessário e imprescindível para enveredar na interpretação desses cenários. Assim, temos que conhecer quais organismos estão causando a eutrofização local e por que o estão fazendo, isto é, em que condição estão nele prosperando. Aí poderemos, então, definir qual nutriente está induzindo a eutrofização e nele trabalhar. O mesmo vale para a poluição aquática que ainda não chegou a causar uma eutrofização, mas que pode pender para tanto. E também será possível entender se o clima está mudando e buscar as causas da mudança.
Como avalia o desmonte da pesquisa científica no Estado de São Paulo e as tentativas do governo de alterar a carreira de pesquisador científico por meio de um projeto de lei em tramitação na ALESP? Que mensagem deixaria aos colegas que hoje lutam pela valorização da carreira e pela defesa da ciência pública?
O projeto de lei que tramitou na ALESP e acaba de ser aprovado representa o desmonte e fim da pesquisa científica em nosso Estado, com reflexo em todo o país. É uma calamidade encetada por um governo que nada entende de ciência e que não quis ouvir os cientistas. O governo dirá que fez uma consulta pública e que nós, pesquisadores, mostramos nosso ponto de vista sobre o referido projeto. Mas o que aconteceu foi que um funcionário do governo nos recebeu, ouviu calado nossas reivindicações e continuou calado nas nossas indagações. Nos pareceu o que vulgarmente se chama de “pau mandado”. O governo permitiu ainda que reivindicássemos, mas, ao que tudo indica, apenas para constar. Seu rolo compressor votou no que seus líderes políticos disseram. Como maioria, venceram. Vamos aguardar agora os passos que ainda nos permanecem obscuros, como, por exemplo, a progressão na carreira — só para citar uma ignorância nossa. O governo escreveu seu próprio epitáfio: “Aqui jaz o governo que matou e enterrou a ciência paulista.” Leviano — não há outra palavra para qualificá-lo.
Entrevista concedida a Bruno Ribeiro em 20 de outubro de 2025