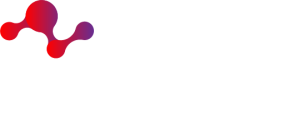Afonso Peche Filho*
A ciência, enquanto instrumento de expansão do conhecimento humano, foi historicamente concebida como prática social orientada por curiosidade, dúvida, espírito crítico e desejo de compreender o mundo para transformá-lo. No entanto, nas últimas décadas, o avanço de uma lógica econômica baseada na competitividade, na produtividade e na financeirização das relações humanas tem deslocado o eixo epistemológico da pesquisa para um campo em que o critério do mercado se sobrepõe ao valor social do saber. Surge, assim, a ciência mercantilizada, isto é, a subordinação do conhecimento científico aos interesses comerciais e à lógica do lucro.
A mercantilização da ciência significa que o conhecimento deixa de ser um bem comum e passa a ser um produto. Publicações tornam-se moeda de troca; patentes, ativos financeiros; pesquisadores, agentes de produção; e universidades, empresas que precisam gerar valor econômico para se manter. Esse processo altera profundamente o sentido da produção científica: investigar o mundo passa a ser menos importante do que vender soluções para o mundo. Em outras palavras, o conhecimento perde sua dimensão de direito social e se torna privilégio de quem pode pagar.
As mudanças estruturais na forma de financiar a ciência evidenciam essa transformação. Editais competitivos determinam quais temas são dignos de atenção e, muitas vezes, são moldados por grupos econômicos que direcionam a pesquisa para setores altamente lucrativos, biotecnologia privativa, agronegócio convencional, indústrias extrativas, plataformas digitais monopolistas. Problemas urgentes de interesse público, como conservação da biodiversidade, agroecologia, soluções de água para populações vulneráveis, saúde preventiva ou tecnologias sociais de baixo custo, acabam negligenciados por não oferecerem retorno financeiro imediato.
Essa dinâmica também modifica o próprio trabalho científico. Pesquisadores e pesquisadoras passam a ser avaliados por métricas produtivistas: número de artigos publicados, fator de impacto, índice H, captação de recursos privados. O conhecimento deixa de ser um processo de construção coletiva e passa a ser uma corrida por resultados espetaculares e rapidamente comercializáveis. A ansiedade, a precarização das carreiras e a competição exacerbada substituem a cooperação intelectual, um dos pilares históricos da ciência moderna.
Além disso, a ciência mercantilizada estimula a privatização do saber. Resultados de pesquisas financiadas com dinheiro público tornam-se inacessíveis à sociedade porque estão protegidos por paywalls, acordos de confidencialidade ou patentes empresariais. O público que sustenta universidades e institutos de pesquisa passa a não ter acesso aos conhecimentos que ajudou a produzir. A contradição é evidente: o bem comum se converte em propriedade privada.
Em um plano mais profundo, essa mercantilização também corrói os valores da ciência. A busca desinteressada pela verdade dá lugar a um projeto guiado pela utilidade econômica. A dúvida, motor filosófico do avanço científico, é sufocada pela pressa em obter resultados “vendáveis”. A autonomia intelectual é comprometida quando laboratórios e centros de pesquisa se tornam dependentes de capital privado e de interesses corporativos. Ao invés de servir ao bem-estar coletivo, o conhecimento passa a reforçar desigualdades, sobretudo quando tecnologias críticas são usadas para controle social, vigilância de dados pessoais ou intensificação da exploração ambiental.
Entretanto, a ciência não nasce mercantilizada. Ela se torna. E é justamente por ser uma construção humana que pode ser ressignificada. Há movimentos crescentes de resistência e reconstrução: ciência aberta, tecnologias livres, pesquisa orientada para problemas socioambientais, universidades comunitárias, extensão acadêmica fortalecida, agendas de justiça climática e alimentar guiando a produção científica. São caminhos que relembram que o conhecimento deve servir à vida e não ao contrário.
A questão central, portanto, não é negar o papel econômico da ciência. Descobertas e inovações geram riqueza, empregos e desenvolvimento. O que se contesta é o monopólio do mercado sobre a definição do que merece ser pesquisado e sobre quem tem direito de se beneficiar dos resultados. Uma ciência que se limita a servir acionistas, governos autoritários ou grandes conglomerados financeiros abdica de sua responsabilidade histórica e ética. A ciência que precisamos é aquela que sustenta a democracia, fortalece comunidades, combate injustiças e assegura a continuidade da vida no planeta.
A ciência mercantilizada não é o destino final da humanidade, mas um sintoma de desequilíbrios maiores: a supremacia da economia sobre a política, da eficiência sobre o cuidado, do lucro sobre a dignidade. Ao denunciar essa condição, reafirma-se que a ciência deve ser uma força de transformação social e não apenas um motor da acumulação econômica. O conhecimento científico tem poder: pode curar, regenerar, conectar, libertar. Mas também pode excluir, destruir e controlar. A escolha sobre que ciência queremos fazer, e para quem, é, antes de tudo, uma escolha civilizacional.
* Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de Campinas – IAC