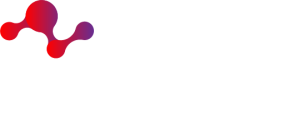Afonso Peche Filho*
A ciência moderna construiu para si a imagem de uma atividade coletiva, colaborativa, ancorada em redes institucionais, financiamentos estruturados e produção contínua de resultados. No entanto, sob essa aparência de cooperação, existe uma realidade menos visível e raramente discutida: a solidão do cientista que orienta seu trabalho para as necessidades sociais, especialmente quando essas necessidades não coincidem com os interesses do mercado.
Essa solidão não nasce do isolamento físico, mas de um desalinhamento ético e epistemológico. Trata-se do pesquisador que escolhe investigar problemas concretos da sociedade, fome, degradação ambiental, exclusão produtiva, saúde pública, educação, tecnologias apropriadas, e que, por isso mesmo, passa a ocupar uma posição marginal dentro de sistemas científicos cada vez mais orientados por métricas de produtividade, patentes, escalabilidade econômica e retorno financeiro de curto prazo.
O cientista comprometido com a sociedade frequentemente enfrenta um paradoxo: seu trabalho é socialmente relevante, mas institucionalmente desvalorizado. Enquanto projetos alinhados ao mercado encontram financiamento, visibilidade e apoio entre pares, pesquisas voltadas à agricultura familiar, ao manejo ecológico, à educação de base ou à adaptação tecnológica para populações vulneráveis são classificadas como “pouco competitivas”, “difíceis de escalar” ou “de baixo impacto”, impacto, aqui, entendido quase exclusivamente como impacto econômico.
Essa lógica produz um ambiente científico no qual o pesquisador socialmente engajado caminha quase sozinho. Seus pares, muitas vezes igualmente qualificados, optam por trilhas mais seguras: linhas de pesquisa financiáveis, temas valorizados por grandes empresas, agendas internacionais dissociadas das realidades locais. Não se trata, necessariamente, de má-fé individual, mas de um sistema que recompensa a submissão ao mercado e penaliza o compromisso social.
A solidão se aprofunda quando esse cientista insiste não apenas em produzir conhecimento, mas em transferi-lo. A extensão científica, o diálogo com agricultores, professores, comunidades tradicionais, técnicos locais, gestores públicos, exige tempo, escuta, tradução de linguagem, presença territorial. Tudo isso consome energia que não se converte facilmente em artigos de alto fator de impacto. Assim, o pesquisador que se dedica à transferência de conhecimento passa a ser visto como alguém que “produz menos”, mesmo quando sua produção transforma realidades concretas.
Há, nesse processo, um tipo específico de sofrimento intelectual: o de perceber que o conhecimento existe, mas não circula, porque os canais oficiais de reconhecimento não valorizam sua aplicação social. O cientista solitário vê seus resultados serem apropriados de forma fragmentada, ignorados por políticas públicas ou, pior, substituídos por soluções padronizadas importadas, muitas vezes inadequadas ao contexto local.
Essa solidão também é política. Ao optar por uma ciência voltada à maioria da população, agricultores familiares, trabalhadores urbanos, pequenos produtores, escolas públicas, o pesquisador confronta interesses estabelecidos. Ele questiona modelos produtivos, denuncia externalidades ambientais, propõe alternativas de menor dependência tecnológica e maior autonomia local. Com isso, passa a ser percebido como “incômodo”, “idealista” ou “pouco pragmático”, rótulos que funcionam como mecanismos sutis de deslegitimação.
Paradoxalmente, é esse cientista solitário que mantém viva a função ética da ciência. Ao resistir à captura completa pelo mercado, ele reafirma que o conhecimento científico não é apenas mercadoria, mas bem público, instrumento de emancipação e base para a justiça social. Sua solidão não é sinal de fracasso, mas de coerência em um sistema que se afastou de sua própria razão de existir.
A história da ciência mostra que muitas das transformações mais profundas nasceram desse tipo de isolamento. Avanços conceituais, práticas inovadoras e mudanças de paradigma frequentemente emergiram à margem, sustentadas por pesquisadores que insistiram em dialogar com a realidade concreta, mesmo sem apoio institucional imediato. A solidão, nesses casos, não é ausência de ciência, mas excesso de compromisso.
Reconhecer a solidão na ciência é o primeiro passo para superá-la. Isso implica repensar critérios de avaliação, financiamento e prestígio acadêmico, valorizando não apenas a produção de conhecimento, mas sua relevância social, territorial e humana. Implica, sobretudo, reconstruir a ideia de comunidade científica como espaço de diversidade ética, onde diferentes compromissos possam coexistir sem hierarquias impostas pelo mercado.
Enquanto isso não acontece, o cientista voltado à sociedade seguirá caminhando em silêncio, sustentado mais por convicções do que por incentivos. Sua solidão, porém, é também uma forma de resistência, e talvez uma das últimas barreiras contra a completa mercantilização do saber.
* Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de Campinas – IAC.