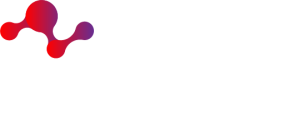Afonso Peche Filho*
A pesquisa científica é historicamente reconhecida como um dos motores centrais do progresso humano. Nas sociedades mais desenvolvidas, a ciência ocupa lugar de destaque, sendo amplamente valorizada por governos, empresas, imprensa e pela própria população. Avanços em saúde, tecnologia, agricultura, energia e comunicação são sempre atribuídos ao mérito da pesquisa. Raramente encontramos discursos que se coloquem “contra a ciência”. Pelo contrário: o discurso político e institucional costuma associar a legitimidade de governantes e partidos ao sucesso científico alcançado em seus mandatos.
Contudo, por trás dessa narrativa de reconhecimento, um cenário preocupante se desenha: o progressivo desmantelamento de instituições de pesquisa, a estagnação de salários de pesquisadores e a ausência de políticas sólidas de reposição de quadros. A isso se soma a omissão social diante desse processo. Esse contraste entre o discurso público e a realidade vivida no cotidiano científico caracteriza o que podemos denominar traição ética na pesquisa.
Governos, em todas as esferas, utilizam os resultados científicos como vitrine de modernidade e competência. Laboratórios de ponta, descobertas inéditas e indicadores de inovação frequentemente aparecem em relatórios oficiais. No entanto, a prática revela outro rumo: cortes orçamentários, sucateamento das estruturas e burocracias que asfixiam a produção científica.
A traição ética se evidencia no momento em que o poder público se apropria simbolicamente dos resultados, mas abandona o compromisso concreto de manter as condições mínimas para que eles continuem a existir. A ética, nesse contexto, não está apenas na lisura administrativa, mas na responsabilidade moral de garantir o futuro da ciência como bem público.
Outro pilar dessa traição ética é a postura passiva da sociedade. Se, por um lado, a população desfruta dos avanços da ciência em vacinas, alimentos, transportes e comunicações, por outro mostra-se pouco mobilizada diante da fragilização dos institutos de pesquisa.
A sociedade aceita, de maneira quase silenciosa, as mudanças que reduzem orçamentos, fecham laboratórios e impedem a renovação de equipes. Os jovens pesquisadores, ao se depararem com a ausência de concursos e de perspectivas profissionais, acabam abandonando carreiras promissoras. Esse êxodo intelectual compromete não apenas o presente, mas também o futuro da soberania científica do país.
A omissão coletiva torna-se cúmplice, pois a ausência de pressão social confere liberdade aos governos para tratarem a ciência como secundária, subordinada a interesses políticos imediatistas.
Talvez a face mais cruel desse processo esteja no bloqueio de carreiras. Ao contrário de outras profissões, a pesquisa exige anos de formação intensa e especializada. Quando esses jovens encontram as portas fechadas, o desperdício é duplo: de talentos individuais e de investimentos públicos já realizados em bolsas, laboratórios e programas de capacitação.
Essa negação de futuro é, em si, um ato de traição ética. Um país que força seus jovens cientistas a migrarem para outras nações ou a abandonarem suas vocações trai não apenas o indivíduo, mas também o pacto social implícito de que a ciência existe para servir ao bem comum.
A “traição ética na pesquisa” não é apenas a soma de decisões orçamentárias ou administrativas. Trata-se de um processo simbólico e estrutural em que governos se apropriam do prestígio da ciência sem assumir o compromisso de sustentá-la, e em que a sociedade, mesmo reconhecendo o valor da pesquisa, permanece omissa diante de seu enfraquecimento.
Denunciar essa traição é, portanto, um ato necessário. Significa reafirmar que a pesquisa não é luxo nem privilégio, mas um direito coletivo e um dever do Estado. Significa também conclamar a sociedade a romper a passividade, reivindicando um futuro em que a ciência possa florescer não apenas como discurso, mas como prática viva, sustentada e ética.
* Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de Campinas.