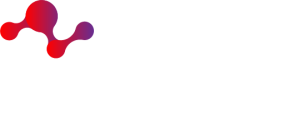Afonso Peche Filho*
O conceito de violência simbólica, formulado por Pierre Bourdieu¹, permite compreender formas de dominação que não se expressam pela força física, mas pela internalização de esquemas de percepção que naturalizam a desigualdade. Trata-se de um poder invisível, que opera pela imposição de significados, categorias e valores, de modo a induzir os dominados a aceitarem sua posição social como legítima. Essa violência é tanto mais eficaz quanto menos percebida, pois age sobre as estruturas cognitivas e simbólicas que organizam a vida coletiva. Em vez de repressão explícita, o que predomina é a aceitação inconsciente das hierarquias impostas.
Ao aplicar esse conceito ao campo científico, observa-se que a pesquisa, embora pautada no ideal de objetividade e autonomia, está inserida em disputas de poder que transcendem o espaço acadêmico. O campo científico não é neutro: sofre pressões externas, sobretudo de ordem política e econômica, que influenciam quais temas são valorizados, quais metodologias são legitimadas e quais vozes são silenciadas. A violência simbólica contra a pesquisa científica se manifesta, assim, de diferentes formas, desde o descrédito público sistemático até a precarização institucional, passando pelo controle do financiamento e a imposição de métricas de produtividade que desvirtuam a essência do trabalho científico.
Um elemento crucial nesse processo é a omissão social diante da violência simbólica que atinge a ciência. A sociedade, muitas vezes, não reconhece que ataques à pesquisa significam ataques a direitos coletivos, como o acesso à saúde, à educação e a políticas ambientais sustentáveis. A indiferença ou o silêncio social diante do desmonte de instituições científicas e do corte de recursos para projetos estratégicos reforçam o poder de grupos dominantes. Essa omissão não é apenas ausência de reação: é, em si, um efeito da violência simbólica, que constrói a imagem da ciência como distante, elitista ou pouco relevante para a vida cotidiana. Assim, legitima-se o discurso de que a ciência pode ser descartada ou substituída por opiniões pessoais ou interesses de ocasião.
A presença negativa do Estado intensifica esse quadro. Em diferentes momentos históricos, o Estado se coloca não como promotor, mas como agente do desmantelamento simbólico da ciência. Isso ocorre quando se adota uma política de cortes sistemáticos no financiamento público, quando se nomeiam dirigentes sem trajetória científica para instituições estratégicas, ou quando se desqualifica o papel dos institutos de pesquisa e da universidade como espaço crítico. Tais ações não se configuram apenas como medidas administrativas: carregam uma dimensão simbólica que atinge diretamente a imagem do pesquisador perante a sociedade. Ao projetar a ciência como supérflua ou ideológica, o Estado fomenta a erosão de sua autoridade, deslocando a confiança pública para outras esferas, muitas vezes marcadas por interesses imediatos ou ideológicos.
Outro aspecto delicado é a postura de parte da própria comunidade acadêmica, composta por pesquisadores que se tornam submissos ao poder político dominante. Ao internalizar as regras impostas pelo jogo político e adequar seus projetos às demandas governamentais, esses pesquisadores colaboram, ainda que involuntariamente, para a manutenção da violência simbólica. Quando aceitam, por conveniência ou medo, a censura de temas críticos; quando moldam seus discursos para agradar autoridades; ou quando transformam a ciência em mero instrumento de legitimação de políticas já definidas, tornam-se cúmplices da desvalorização simbólica da pesquisa. Essa submissão não apenas fragiliza a autonomia acadêmica, mas reforça o ciclo de legitimação das práticas de dominação.
Refletir sobre a violência simbólica contra a pesquisa científica exige, portanto, olhar para três dimensões articuladas: a omissão social, a ação negativa do Estado e a conivência de pesquisadores. Todas essas dimensões se entrelaçam na reprodução de um sistema que naturaliza a precarização da ciência e fragiliza seu papel transformador. A omissão da sociedade abre espaço para políticas de desmonte; o Estado, quando atua de forma a corroer a autonomia científica, amplifica a violência simbólica; e os pesquisadores submissos funcionam como mediadores dessa dominação, reforçando os limites impostos.
Superar esse cenário implica desenvolver estratégias de resistência simbólica. É necessário fortalecer a comunicação entre ciência e sociedade, de modo a romper com a imagem elitista da pesquisa. Exige-se também que os cientistas cultivem uma postura reflexiva e crítica, recusando-se a legitimar práticas que comprometam a integridade do conhecimento. Finalmente, a sociedade precisa compreender que a ciência é um bem público, e que sua desvalorização implica perdas coletivas irreversíveis, desde a saúde pública até a preservação ambiental.
Em síntese, a violência simbólica contra a ciência não é um fenômeno isolado: ela expressa uma trama de omissões sociais, estratégias estatais de desmantelamento e submissões internas que fragilizam o campo científico. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para resistir a ela, reafirmando a autonomia da pesquisa e seu compromisso com o bem comum. Só assim será possível romper com o ciclo de naturalização da dominação e recolocar a ciência como força crítica e emancipadora na sociedade contemporânea.
¹ BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011
* Pesquisador Científico do Instituto Agronômico de Campinas – IAC